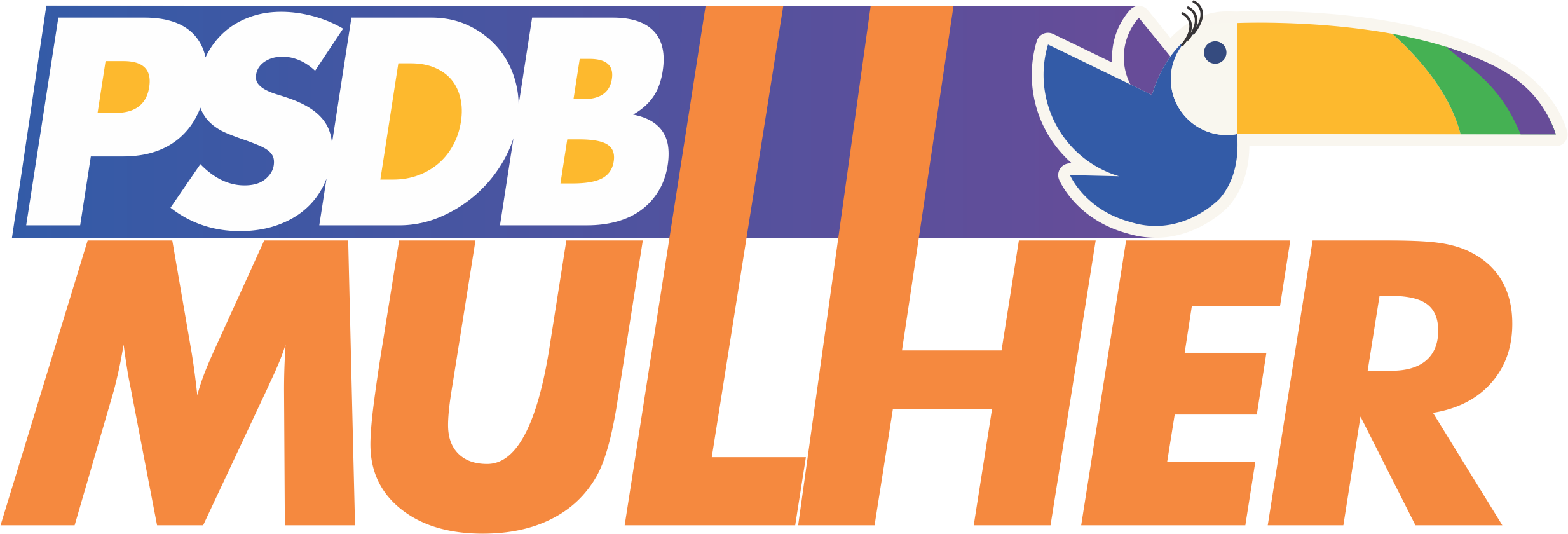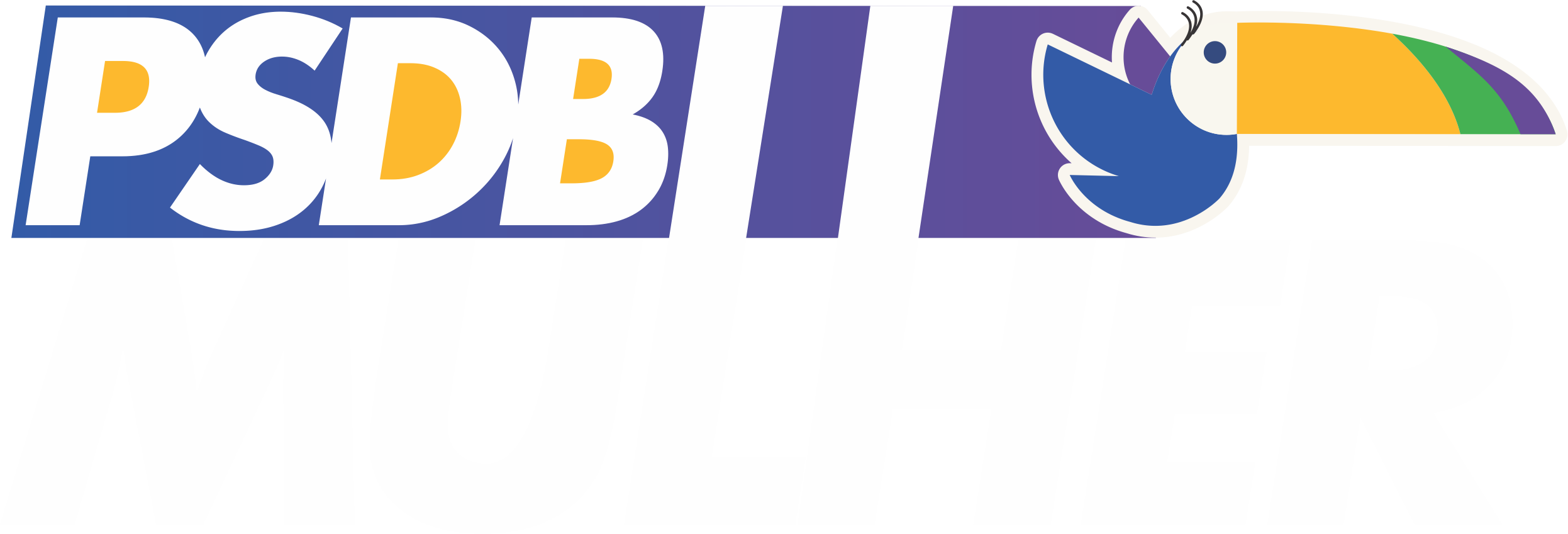Depois de alertar para o aumento da violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, a ONU (Organização das Nações Unidas) trouxe recentemente outro aviso alarmante que afeta a saúde das mulheres como consequência do novo coronavírus. De acordo com o órgão, 47 milhões delas, espalhadas por 114 países de média e baixa renda, podem não conseguir acessar serviços de saúde nem métodos contraceptivos enquanto as unidades de atendimento ficarem sobrecarregadas, fecharem ou só fornecerem serviços limitados.
Sem os check-ups médicos necessários por medo do vírus, podemos ver ainda 7 milhões de gestações não intencionais caso o isolamento social e/ou quarentena geral continuar por seis meses, segundo o UNFPA (Fundo de População da ONU).
Uma gravidez fora de hora não é o maior problema. A falta de acesso adequado ao sistema de saúde acarreta em milhares de mortesevitáveis, entre elas a materna — entram para essa estatística mulheres que perdem sua vida durante a gestação ou nos 42 dias após darem à luz. No período de 1996 a 2018, o Brasil registrou 39 mil óbitos maternos, 92% deles por causas consideradas evitáveis, de acordo com o Ministério da Saúde.
Não estão contabilizadas aí as mortes de crianças de até 1 ano de vida, acometidas por afecções originadas no período perinatal — e que também podem ser evitadas, como problemas relacionados ao trabalho de parto. Num período de 2015 a 2018, foram 85.433 óbitos, segundo dados disponibilizados pelo governo.
O Brasil tem uma meta firmada com a ONU de reduzir a elevada taxa de morte de mães de 59,1 para 30 óbitos para cada 100 mil
nascidos vivos até 2030. E, no Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, lembrado nesta quinta-feira (28), Universa debate com especialistas se chegaremos lá.
É possível, mas…
Num cenário de pandemia, especialistas divergem entre “quase difícil” e “possivelmente não” quanto ao cumprimento desse objetivo.
Anna Cunha, oficial do Programa em Saúde Sexual e Reprodutiva na ONU, é mais otimista, justamente porque a maioria das mortes é provocada por complicações obstétricas ou intervenções, omissões ou tratamento incorreto. Problemas esses, em sua avaliação, solucionados com atendimento de qualidade.
“É possível, sim, reduzir mais. O problema é que, mundialmente, além de muitos serviços fecharem ou se limitarem a horários de atendimento, as mulheres agora ficam com medo de sair de casa por causa do coronavírus, principalmente as que moram em regiões onde não há os EPIs [equipamentos de proteção individual] adequados. Ou sequer têm opção de transporte”, ela aponta.
“Além disso, o lockdown afeta a cadeia de produção dos insumos de contraceptivos, bem como a distribuição dos estoques. A previsão é a de que eles se esgotem nos próximos seis meses em países de baixa renda, e mais de 2 milhões de mulheres podem não ter acesso a eles.”
“A pandemia já está atrapalhando”
Se antes da pandemia já estava difícil reduzir a taxa de mortalidade materna, agora é ainda mais complicado, na avaliação de Vanja dos Santos, conselheira nacional e representante da União Brasileira de Mulheres (UBM), do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Mulheres pretas e pardas totalizam 65% dos óbitos maternos
Ela lembra que a crise financeira alastrada no país já tinha tornado o cenário preocupante, principalmente porque houve migração de mulheres do plano de saúde para o SUS, lotando ainda mais o sistema. Soma-se a isso à falta de investimento na área: em 2018, menos de 20% do valor destinado à saúde da mulher foi usado pelo Ministério da Saúde.
No relatório de avaliação de prestação de contas do Ministério da Saúde, elaborado pela Cofin (Comissão de Orçamento e Financiamento), do CNS, o item Atenção à Saúde da Mulher, Criança, Adolescente e Jovem mostra execução de 17,99% do orçamento destinado a essa finalidade, em 2018. No documento, os analistas classificam como nível de liquidação “intolerável” e “inaceitável”. Desde 2016 esse número decresce. Naquele ano, ele chegou a 39,96%.
A falta de investimento no SUS responde, em parte, por que mulheres pretas e pardas totalizaram 65% dos óbitos maternos até 2018, enquanto as de baixa escolaridade (menos de oito anos de estudo) corresponderam a 33% dos casos. E esse número tende a crescer.
“As desigualdades sociais ficaram expostas com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, e pudemos ver isso quando contabilizamos mais mulheres negras e da periferia atingidas econômica e socialmente. Muitas não conseguem trabalhar e sequer sacar o auxílio emergencial”, observa Vanja.
Ela tem sua visão corroborada pela enfermeira-obstetra Paula Viana, coordenadora do Grupo Curumim – Gestação e Parto.
“Há ainda as mulheres indígenas, sem acesso de qualidade nem atenção; as violentadas que engravidam e têm problema, inclusive mental. Porque uma gravidez permeada por iminência de risco ou situação indesejável tem que ser considerada de risco”, afirma.
Paula frisa que houve ampliação do acesso aos métodos contraceptivos nos últimos anos.
Pela Lei, o SUS deve oferecer oito tipos de contraceptivos, como DIU de cobre e camisinha.
Mas a especialista critica o país quanto à agilidade nas ações. Como exemplo, ela faz um comparativo com a epidemia ocasionada pelo zika vírus, que provoca a microcefalia, em 2015. Entre novembro daquele ano e outubro de 2019, o Ministério da Saúde confirmou 3,5 mil casos de alterações no crescimento e desenvolvimento de crianças relacionadas à infecção pelo vírus.
“Parece que o Brasil não aprendeu a lição de casa. Solicitamos ao STF para que os métodos de longa duração fossem fartamente ampliados, e que as enfermeiras fossem aptas a implementar o DIU de cobre, mas tivemos grande reação do Conselho Federal de Medicina, que diz que só médico pode fazer. Isso fecha portas”, afirma Paula.
A Curumim foi uma das entidades “amigas da corte” da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) apresentada ao STF pela Anadep (Associação Nacional dos Defensores Públicos) em agosto de 2016. O objetivo era garantir direitos às mulheres e crianças contaminadas pelo vírus zika, entre eles permissão do aborto, rejeitado pelos ministros.
Para Paula, num momento de incertezas pelo qual o mundo passa, o aconselhável seria reforçar a contracepção. Para isso, claro, as mulheres têm que ser bem orientadas.
“Estamos numa situação que nos indica que não é uma boa planejar gravidez. Vivemos um momento de incertezas temporárias. Nem certeza temos de nada”, ela diz, para concluir que a meta de redução da taxa de mortalidade materna deve ser reajustada. “Mesmo antes disso, do jeito que estava, já não iríamos conseguir.”
Tecnologia a favor das mulheres
Em meio a incertezas, há, no entanto, protocolos sendo escritos na tentativa de fazer com que hospitais e maternidades sigam corretamente as instruções e não agravem ainda mais a saúde da mulher durante a pandemia. Instituições como o Instituto Materno
Infantil de Pernambuco (Imip) e o Instituto de Pesquisa de Campina Grande estão se baseando em pesquisas científicas para reforçar, por exemplo, o movimento de humanização do parto.
“A Covid-19 não é justificativa para fazer o parto cesárea e pesquisas já apontam isso”, Paula exemplifica. “Há um desencontro de ideias que só faz baratinar a população e trazer mais insegurança e medo.”
Outro aspecto positivo é a mobilização social, como ajuda online às populações de vulnerabilidade, exemplo dos programas “Fale com a Parteira” (81 99987 1946) e “Vera” (81 98580 7506), grupos de conversa por aplicativo que orientam as mulheres. Em um mês, profissionais da saúde fizeram mais de 1,6 mil atendimentos a mulheres de vários estados através do “Fale”, e isso vem adiando a ida às maternidades — evitando, assim, a contaminação.
Lá mesmo no Recife, base do Curumim, o hospital estadual Agamenon Magalhães, referência em gravidez de alto risco, conseguiu reduzir em 54% a taxa de mortalidade materna. A unidade serviu como projeto-piloto do programa global MSD para Mães, que disponibilizou 500 milhões de dólares para ajudar governos como os EUA e Reino Unido a reduzir a mortalidade materna num período de dez anos.
No Brasil, o projeto funcionou em parceria entre privado e público: envolveu o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde a equipe do Agamenon foi treinada, a farmacêutica MSD e as secretarias Estadual e Municipal de Saúde de Pernambuco e Recife.
A falta de informação é uma doença crônica. Até 2018, ano de implementação do projeto, o intervalo entre os óbitos maternos era de quase 18 dias e, entre maio e dezembro daquele ano, não houve um novo registro de morte. A ideia é expandir o projeto para mais 24 maternidades públicas no Brasil, em 10 estados. Quem explica o método é Kleber Cunha, porta voz da MSD.
“A gente olha para os hospitais públicos e, dependendo da liderança, a equipe muda muito — e com ela o foco da atenção. As ações não se sustentam. Então mudamos a forma como as mulheres eram atendidas, desde a identificação por algum problema a partir de um inchaço no pé, por exemplo, até o atraso no atendimento. Envolvemos ainda o estado para resolver questões como transporte. Tem mulher que leva cinco horas para chegar ao hospital”, ele afirma.
“Se olhar do ponto de vista do sistema público, que já tem a mão de obra, a organização não demandaria recursos altos.”
Universa procurou o Ministério da Saúde, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.
Fonte: Universa – UOL