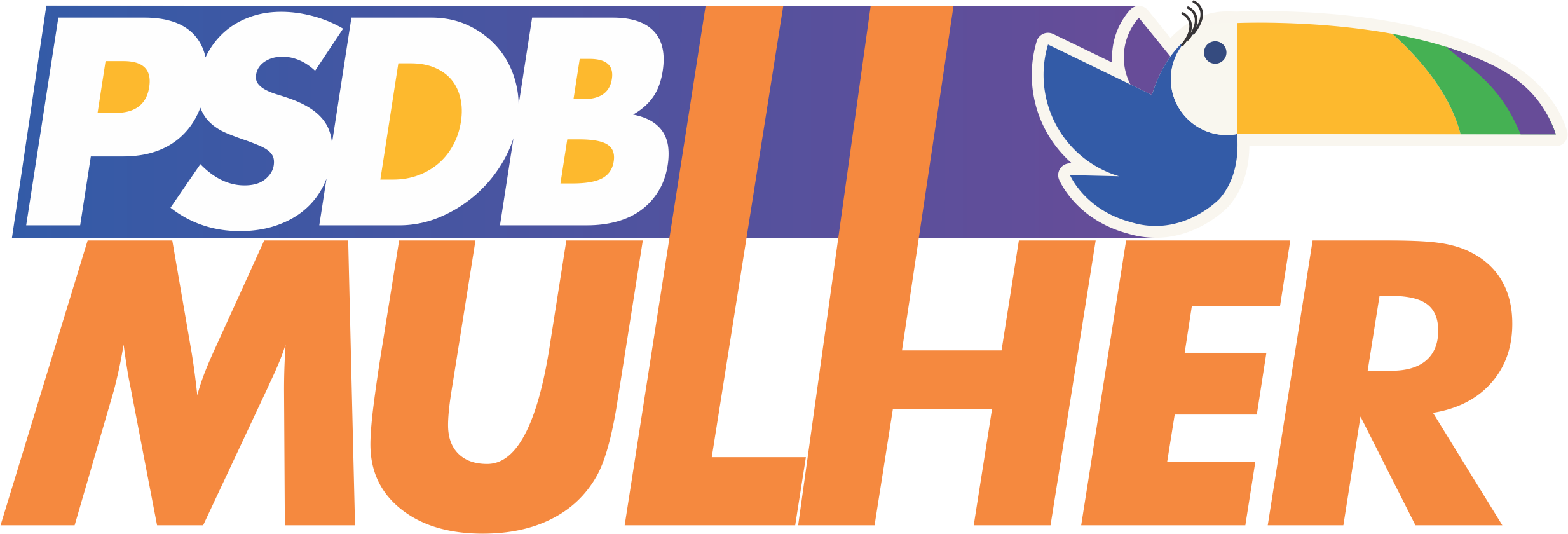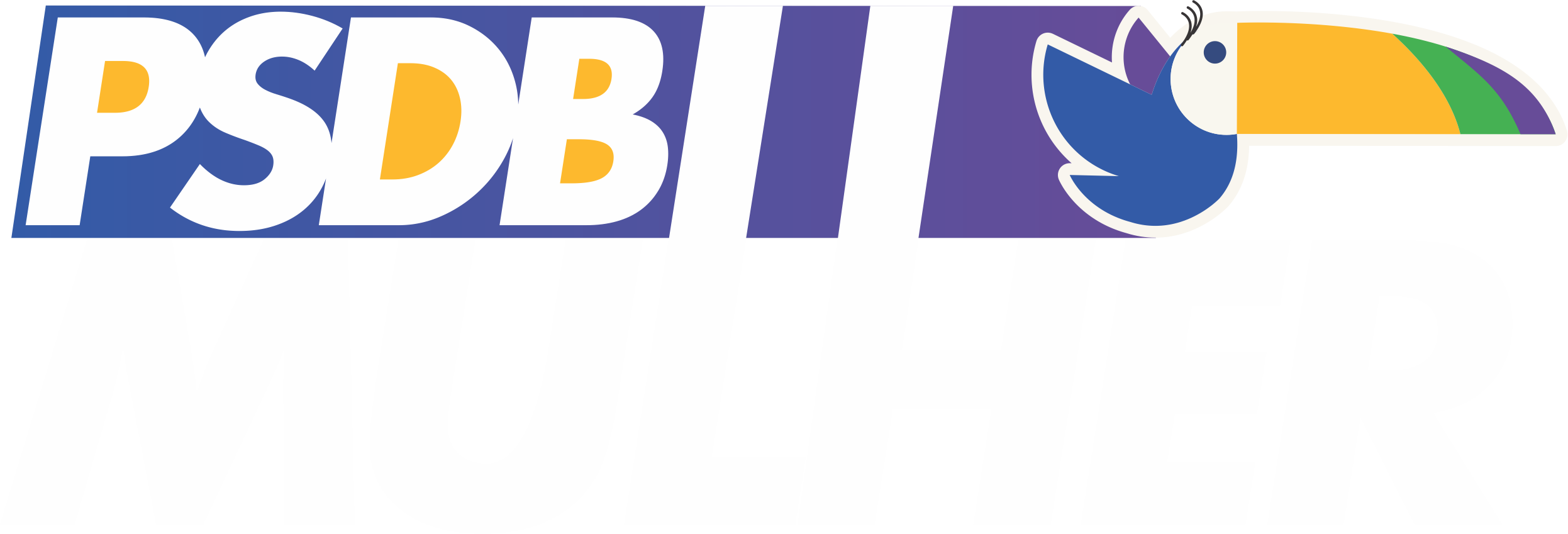Na Olimpíada de Tóquio, entre 24 de julho e 9 de agosto, pela primeira vez em 32 edições dos Jogos da era moderna o número de mulheres que vão competir será quase igual ao de homens — elas participarão de 48,8% das disputas. Em 2016, no Rio, o índice era de 45,6%. Há oito anos, em Londres, foi de 44,2%. Ressalte-se que nos outros Jogos realizados na capital do Japão, em 1964, há 56 anos, o contingente feminino era de escassos 13,2% do total. A delegação brasileira muito possivelmente embarcará para o Oriente, neste ano, de modo inédito, com mais competidoras do que competidores (o número definitivo será fechado apenas em julho, depois de todas as competições classificatórias). É um extraordinário avanço, retrato de uma nova postura da sociedade — uma vitória, sem dúvida alguma, dos movimentos de igualdade de gênero deflagrados no fim dos anos 1960 e que, desde então, nunca mais deixaram de ecoar globalmente.
Uma vitória, também, de algumas poucas mulheres que, sozinhas, desafiaram o atavismo e a desigualdade. Uma delas vive em um sobrado simples em Niterói feito de escadas, corredores e quartos que remetem a um labirinto — ali mora Aída dos Santos, uma senhora elegante de 82 anos, de sorriso aberto e memória intacta. Um diploma e uma boneca japonesa de pano, cuidadosamente protegida por uma embalagem de plástico, ambos empoeirados, revelam que essa mulher ficou em quarto lugar na prova de salto em altura. Ela cravou 1,74 metro, e por 4 centímetros não subiu ao pódio. Mas Aída foi a Tóquio com outra marca inigualável: era a única mulher entre os 68 atletas brasileiros convocados para o torneio em 1964. Sim — 67 homens e Aída. É bonito, para dizer o mínimo, que cinco décadas depois daquela primazia de Aída, solitária, o Brasil possa chegar a Tóquio com uma delegação majoritariamente delas. É importante destacar que, por 32 anos, até que Jaqueline e Sandra levassem o ouro no vôlei de praia, em 1996, o melhor resultado de uma brasileira em Jogos Olímpicos foi o da atleta niteroiense.
 “Eu me emociono ao ver tantas mulheres agora”, diz Aída. Ela se recorda de, em 1964, ter passado duas semanas chorando na Vila Olímpica, presa entre as dificuldades do idioma e o machismo. Dormiu sozinha no alojamento e, para movimentar-se, pedia o socorro de atletas de língua espanhola. Tinha alguma tranquilidade apenas nos passeios de bicicleta. Não levou treinador, tampouco calçados adequados — salvou-a o representante de uma marca de equipamentos esportivos, que, na véspera da competição, conseguiu um par de tênis com pregos no calcanhar, como pede a modalidade do salto em altura. As dificuldades daqueles dias, rememora Aída, não eram muito distantes dos obstáculos enfrentados antes de começar a vencer no esporte. “Lembro-me de que, na última eliminatória antes da Olimpíada, em 1964, minha mãe só me deixou ir até o Maracanã, de carona, numa bicicleta, depois de eu carregar água nos baldes, lavar roupa e encerar o chão”, diz. “Meu pai chegou a me bater porque eu saía escondido para competir.” O pai era pedreiro. A mãe, lavadeira. Ela gostava mesmo era de voleibol — e não por acaso sua filha, Valeska, foi medalha de ouro em 2008 —, mas ouviu inúmeras vezes a frase que a empurraria para as pistas de atletismo: “Vôlei não é coisa de preto”. Recentemente, Aída se tornou campeã máster de vôlei, e suas medalhas emolduram o atulhado quarto de recordações esportivas.
“Eu me emociono ao ver tantas mulheres agora”, diz Aída. Ela se recorda de, em 1964, ter passado duas semanas chorando na Vila Olímpica, presa entre as dificuldades do idioma e o machismo. Dormiu sozinha no alojamento e, para movimentar-se, pedia o socorro de atletas de língua espanhola. Tinha alguma tranquilidade apenas nos passeios de bicicleta. Não levou treinador, tampouco calçados adequados — salvou-a o representante de uma marca de equipamentos esportivos, que, na véspera da competição, conseguiu um par de tênis com pregos no calcanhar, como pede a modalidade do salto em altura. As dificuldades daqueles dias, rememora Aída, não eram muito distantes dos obstáculos enfrentados antes de começar a vencer no esporte. “Lembro-me de que, na última eliminatória antes da Olimpíada, em 1964, minha mãe só me deixou ir até o Maracanã, de carona, numa bicicleta, depois de eu carregar água nos baldes, lavar roupa e encerar o chão”, diz. “Meu pai chegou a me bater porque eu saía escondido para competir.” O pai era pedreiro. A mãe, lavadeira. Ela gostava mesmo era de voleibol — e não por acaso sua filha, Valeska, foi medalha de ouro em 2008 —, mas ouviu inúmeras vezes a frase que a empurraria para as pistas de atletismo: “Vôlei não é coisa de preto”. Recentemente, Aída se tornou campeã máster de vôlei, e suas medalhas emolduram o atulhado quarto de recordações esportivas.
Ao voltar para os alojamentos, em Tóquio, com o quarto lugar, Aída foi recepcionada por alguns colegas, que se disseram muito felizes com a conquista. “Mas não vi nenhum de vocês na arquibancada”, ela afirmou, a um só tempo irritada e altiva. No desembarque no Rio de Janeiro, quiseram instalá-la em um carro de bombeiros, em desfile aberto até Niterói. Aída se negou e pegou um táxi. Ainda dentro do avião, ofereceram-lhe um ramalhete de flores. “Agora? Por que vocês não me apoiaram antes?”
A “Olimpíada das mulheres”, como vêm sendo chamados os Jogos de Tóquio em 2020, além de ser resultado de décadas de muita briga, carrega outra mensagem, cuidadosamente preparada pelos organizadores — o Japão foi sempre um país de poucas oportunidades para as mulheres, tradicionalmente afastadas do mercado de trabalho, embora as estatísticas tenham melhorado nos últimos anos. Em 1970, apenas 46% delas, entre 15 e 64 anos, trabalhavam. Hoje são 64%, índice similar ao dos Estados Unidos (convém ressaltar que a ocupação feminina no Brasil atualmente está no mesmo patamar em que o Japão se encontrava cinquenta anos atrás). Políticas públicas e das empresas privadas têm diminuído o fosso entre mulheres e homens — e a Olimpíada precisaria retratar esse movimento. Ainda assim, no cotidiano, em muitas situações continua a valer a frase de Tiger Tanaka, o chefe do serviço secreto japonês de um capítulo da franquia de James Bond, Com 007 Só Se Vive Duas Vezes, de 1967, com Sean Connery — filme que, supostamente, serviria para mostrar um Japão modernizado, no pós-guerra. Em inglês, a frase continha um trocadilho irônico com os prazeres sexuais masculinos, ao dizer que os homens chegam antes ao clímax, mas em português fica muito claro também: “No Japão, os homens sempre vêm primeiro”. Para tentarem mostrar que não é mais assim, os japoneses, de mãos dadas com o Comitê Olímpico Internacional, trataram de abrir mais espaço para as mulheres — decisão que torna a trajetória de Aída dos Santos ainda mais emocionante.
Fonte: Revista Veja